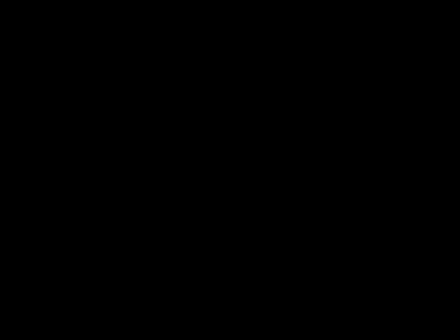Todos os dias, enquanto atava a gravata e se olhava no espelho, tinha de lutar consigo mesmo para não chorar, para segurar as lágrimas. Era difícil, quase impossível, mas sempre ganhava. Era nada mais que a repetição de um ritual que tinha desde a infância. Devia ter uns dez anos quando sentira uma vontade imensa de chorar enquanto amarrava os cadarços. Naquela época, havia motivo. No entanto, lutou e segurou o choro. Não para parecer mais forte e maduro do que eram seus anos, não porque achava que não valia a pena, pois valia, e sabia disso. Não sabia o motivo.Todos os dias desde então era o mesmo. Algumas vezes a vontade vinha por um motivo inquestionável, outros, pela menor das insignificâncias. Muito frequentemente vinha por motivo algum. Mas então, quando saia de casa e encarava o mundo, sabia que nada que nele existia poderia fazê-lo chorar. Nada no mundo.
Agora era um adulto, o rosto não era mais o de um menino, na verdade, já apareciam alguns sinais de idade, mesmo não sendo ainda velho. Mas a verdade é que ficara velho naquele dia em que segurara o choro enquanto amarrava o tênis. Achava que isso significava saber lidar com os próprios sentimentos: não chorar, nunca falar “eu te amo”, para ninguém, nem para a família, para os amigos, nem para a pessoa certa. Estava errado, mas se enganava, assim como se enganara naquela manhã com os sapatos e sem as lágrimas, dizendo para si mesmo que ia ficar tudo bem. Pois não ia. Não ficou e não vai ficar. Isso é certo. Nunca gostara dos livros que não tinham finais felizes, pois era só por conta do final feliz que ele conseguia deixar aquilo ir, conseguia se lembrar que aquilo não era de verdade. A verdade é um dia de chuva e uma gravata azul. Verdade é lembrar das coisas boas sabendo que não se aproveitou o suficiente porque não se deixou levar pelo sentimento. Não se deixava levar por nada. Eram só piadas sarcásticas e raiva do mundo. Raiva que não existia. O que mais queria era dizer que amava. O que mais queria era poder chorar, e ter amigos de verdade. Era dizer como o mundo e as pessoas o fascinavam. Tudo que queria era correr o mundo e conhecer tudo, aprender e ler numa cama dividida. Tudo que queria era mandar sua rotina se foder. Mas toda a manhã amarrava de volta o sentimento, prendia a si o tédio com o mais forte dos nós. Era apatia. Não sabia porque, só sabia que queria fugir e não podia. Para fazer isso teria que chorar e tinha medo. Tinha medo de tudo que sentia. Por isso perdera a chance de dizer que amava alguém entre um beijo e outro. Por isso perdeu os sonhos que tinha aos dez anos, aos poucos, morrendo de inanição. Os que tinha agora eram faz-de-conta. Eram sonhos de adulto, e adultos não sonham. Não de verdade.
E agora sentia que era tarde demais. Sua vida virara uma repetição sem sentido. Seguindo em frente apenas para ver as marcas no rosto ficarem mais profundas, para ir aos poucos se afastando de todos que lhe significassem alguma coisa. Perdera a chance de sentir algo, perdera a chance de se envolver com tudo que poderia querer: sonhos, pessoas, atividades. Se tivesse algum amigo, lhe diria que não é tarde, que é jovem. Mas nunca se é jovem o suficiente, quando se percebe, tudo já virou merda. E talvez já fosse antes, só não se tivesse percebido. Ele nunca disse adeus. Nem antes, quando deveria ter chorado e não chorou, nem depois, quando deveria ter dito que amava e não disse. Mas se despedia de si mesmo todos os dias. Cada vez mais a gravata azul – sempre azul – lhe parecia com uma forca, mas uma que ia lhe matando aos poucos. Primeiro a imaginação, depois o afeto, por último a tristeza. Quão triste é não conseguir mais ficar triste? Antes, quando ainda achava ser possível, colocara suas esperanças em diversas coisas, no livro que ia escrever, na pessoa que amava sem dizer, e por fim até em si mesmo. Destruíra tudo sem nada fazer.
Terminava o nó e se olhava no espelho. A gravata azul, o colete preto, como o resto do terno. Os olhos vermelhos, mas secos. Oito da manhã e previsão de chuva. Café preto, duas torradas e três cigarros antes de sair. Eram todos os cigarros que fumaria durante o dia. Gostava de pensar que não tinha um vício, que estava no controle, mas estava errado, como sempre. Não comeria nem beberia mais nada até voltar para casa, para o refúgio de seus pesadelos. Saía de casa e ligava o rádio. Ouvia Roger Waters dizendo “I don’t need no arms around me, and I don’t need no drugs to calm me” e sabia que ele também estava mentindo para si mesmo. É isso tudo que as pessoas faziam. Não por vontade própria, mas porque alguma coisa fazia com que não soubessem agir diferente. Era ir além dessas mentiras, era disso que gostava, era isso que o fascinava nas pessoas. E era isso que negava a si mesmo. Sabia que todos mentiam para si mesmos, mas nunca conseguira saber se todos se sentiam tão paradoxais quanto ele. É preciso amar alguém para cometer o erro de não dizê-lo. É preciso perder uma parte importante de si para chorar. Talvez as pessoas que dizem “eu te amo” o façam por não amarem, numa tentativa de forçar esse sentimento. Talvez as pessoas que choram o façam para fingir que ainda tem o que perder de si mesmas. Mas não, não era isso, sabia. Se fosse isso, as pessoas o encantariam muito mais do que o faziam de fato, esse era um problema seu, e se os outros tinham algo em comum com ele é que todos tinham cada qual seu próprio problema. Sentia o cheiro de asfalto molhado antes de começar a chover.
Na manhã seguinte era tudo igual. A gravata, os olhos vermelhos, o café, as torradas, os cigarros. A previsão é de chuva forte no fim da tarde, céu cinza o dia todo. Para sempre. Sempre.
Ler Mais...